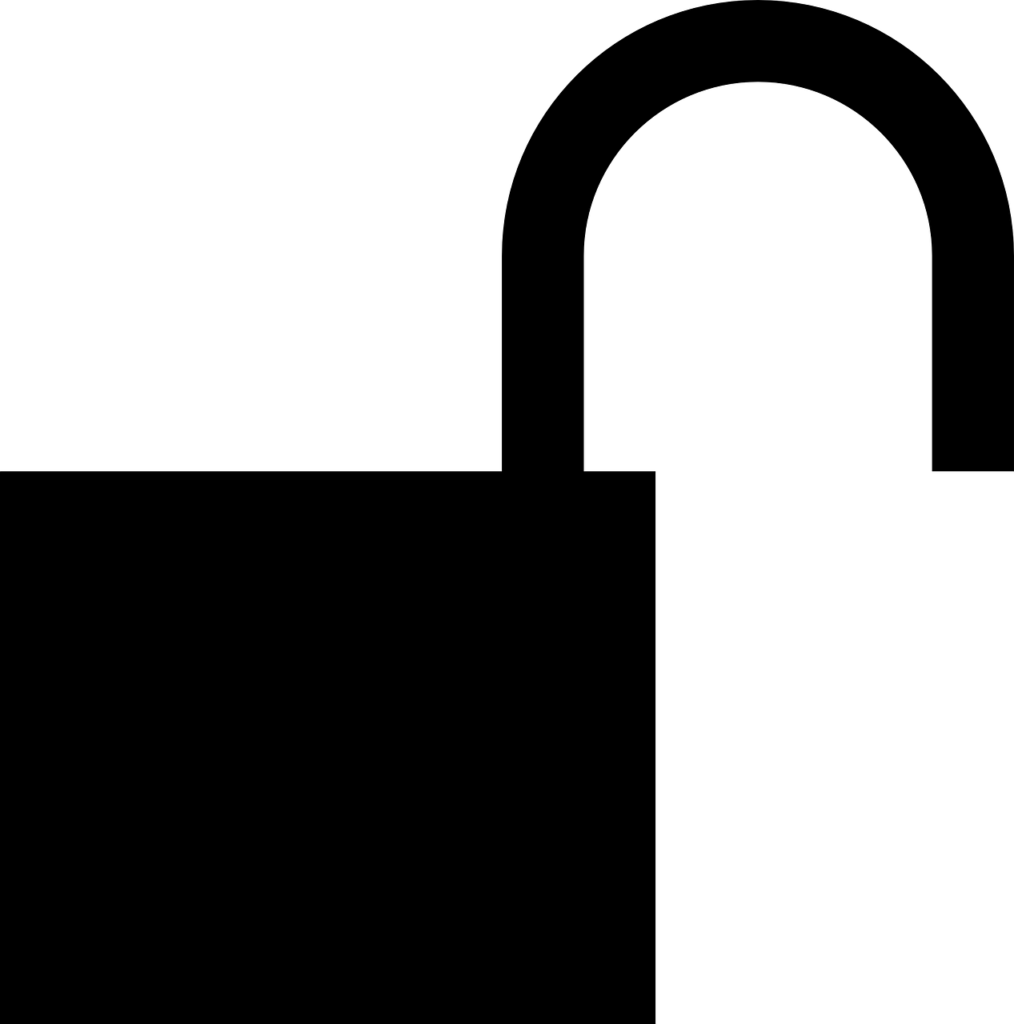
A ciência aberta é um conceito novo na minha formação, apesar de estar presente na minha vida há alguns anos. Segundo a Open Knowledge Foundation ciência aberta é, dentre muitas coisas, “o conhecimento científico livre para as pessoas usarem, reutilizarem e distribuírem sem restrições legais, tecnológicas ou sociais” (p. 435), englobando várias práticas, iniciativas, princípios e categorias.
A ideia desse movimento é espalhar o conhecimento científico de um jeito que todo mundo possa utilizar dados, artigos e outros produtos e processos da ciência de forma aberta e gratuita. Assim, é possível criar uma rede colaborativa onde qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, pode fazer uso de dados de pesquisas e trabalhos acadêmicos para fazer novos estudos. Isso ajuda a economizar recursos com pesquisas e evita que várias pessoas atuem na mesma área de pesquisa, ou façam o mesmo trabalho sem saber uns dos outros.
Esse tema tem provocado debates e iniciativas em duas frentes. Na área jurídica, com relação à propriedade intelectual e o direito autoral defende-se que as licenças possam ser livres para trabalhos acadêmicos, científicos e culturais. Já no aspecto técnico, pede-se que os formatos usados permitam que qualquer um possa acessar, reutilizar, compartilhar e mexer nos dados de forma fácil a quem se interessar (Albagli. et al., 2014).
A ciência aberta pode ter ganhado destaque agora, mas não é um assunto tão novo assim, já que vem percorrendo seu caminho nas últimas três décadas, contando com a colaboração de pesquisadores, auxiliada pela tecnologia, como a internet, plataformas digitais, softwares livres.
Vários documentos foram elaborados ao redor do mundo para ajudar a espalhar essa ideia e incentivar mais pessoas e instituições a entrar no movimento da ciência aberta. Esse inclui a Declaração de Budapeste, de 2002 – que trouxe o conceito de ciência aberta e “estratégias para o acesso livre a publicações científicas, fortaleceu o movimento e a sua aplicação aos resultados de pesquisas científicas e aos documentos científicos por meio da internet”. Mas há vários outros, como as Declarações de Bethesda e de Berlim, em 2003 e a Declaração do Panamá sobre Ciência Aberta, de 2018.
O Brasil não ficou de fora. Aqui temos uma plataforma de periódicos científicos chamada SciELO (Scientific Electronic Library Online), criada em 1998, que se tornou o marco inicial da ciência aberta no nosso país, juntamente com o manifesto do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), de 2005.
Hoje temos as ferramentas a favor do movimento da ciência aberta como as plataformas digitais colaborativas e repositórios on-line que disponibilizam dados a quem interessar para utilizá-los da forma como quiserem. Como exemplo, temos alguns elaborados em universidades e instituições públicas ou financiadas pelo governo, como a Harvard Dataverse, Zenodo e o Repositório de Dados da UNIFESP. Se por um lado defende-se no país a eficácia, produtividade e competitividade na ciência, há um outro debate sobre garantia de direitos, que o mundo corporativo visa “transformar resultados de pesquisa em mercadorias atraentes em economias pós-industriais” (Clinio, 2019).
O movimento tem propostas inclusivas: compartilhamento, colaboração, mas me pergunto: é possível equilibrar ciência aberta e retorno financeiro? É necessário que haja um diálogo com o mercado de forma a encontrarem uma forma de viabilizar a ciência aberta democraticamente sem prejudicar a indústria que emprega milhares de pessoas. Não se trata de excluir o retorno financeiro do mercado, mas de redesenhá-lo com base no bem comum, pensando em melhoria de políticas públicas, parcerias público-privada e modelos sustentáveis. Cabe pensarmos em reinventar um modelo de negócios que abranja a ciência aberta.
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.